Buscado no Cinephilia
Compulsiva
S P A R T A C U S
de STANLEY KUBRICK (1960)
de STANLEY KUBRICK (1960)
Um dos
méritos maiores de Spartacus, a história de um homem que
lutou pelo fim da escravidão 2.000 anos antes dela ser abolida
de fato, está na capacidade do filme de imergir o espectador em
um período histórico anterior ao surgimento do Cristianismo,
dando-nos vislumbres dos horrores vigentes na realidade
sócio-política desta época.
No século
que antecedeu o nascimento de um certo profeta hebreu de Nazaré, o
Império Romano possuía na crucificação seu principal instrumento
de pena capital: Jesus, longe de ser uma exceção, padeceu na cruz
um destino semelhante ao de milhares de pessoas
assassinadas através deste método horrendo pelas elites
romanas. Donde a perplexidade que muitos manifestam diante da
idolatria católica da cruz, que vista sob uma perspectiva
histórica, sem adornos mitológicos, não passa de um instrumento
sinistro de tortura e assassinato.
É o que
Richard Dawkins nota ao sugerir uma comparação insólita: ostentar
um crucifixo equivale a andar por aí com uma cadeira-elétrica em
miniatura dependurada no corpo. Símbolo sinistro de uma religião
fundada no martírio de seu profera, e que não cessou de idolatrar,
história afora, um instrumento do suplício, como se convidasse os
devotos a imitarem a tortura crística, pregando-se em vida numa cruz
ou trotando pela Terra com um fardo auto-imposto sobre o lombo - como
aqueles camelos sobrecarregados e miseráveis de que fala
Zaratustra...
Na época
que o filme de Kubrick retrata, onde ainda não havia sido inventado
o calendário que rachou a História em um antes e um depois de
Cristo, testemunhamos uma luta de classes das mais encarniçadas: de
um lado, a aristocracia imperial romana, que tem como divertimento
predileto a sanguinolência dos espetáculos de gladiadores, onde
dois escravos são obrigados a lutar até que um deles assassine o
outro; de outro, uma massa imensa de despossuídos e explorados,
coagidos pela força militar e policial do Império ao trabalho
extenuante, e alguns deles obrigados a servir de bonecos-de-carne nas
grotescas cerimônias digladiantes.
Quando Walter Benjamin afirma que
"todo monumento da civilização é um monumento da
barbárie", provavelmente se refere a esta vergonhosa
realidade do mundo greco-romano: todas as elevadíssimas e grandiosas
conquistas culturais, todas as estátuas lindamente esculpidas e
edifícios belamente arquitetados, tinham como base um sistema
econômico escravista, defendido desavergonhadamente pelas elites,
inclusive pelos filósofos, poetas e literatos da gloriosa Grécia. O
próprio Platão era dono de escravos e Aristóteles, preceptor de
Alexandre, já inicia seu livro dedicado à Política em um
tom escravocrata (e machista) explícito capaz de enojar o leitor
contemporâneo...
"Alguns seres, ao nascer, se veem destinados a obedecer; outros, a mandar. (...) O macho é mais perfeito e governa; a fêmea o é menos, e obedece. (...) Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem; são os homens no qual o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados, por natureza, à escravidão; porque, para eles, nada é mais fácil do que obedecer. (...) A utilidade dos escravos é mais ou menos a mesma dos animais domésticos: ajudam-nos com sua força física em nossas necessidades cotidianas. (...) O escravo é completamente privado da faculdade de querer; a mulher a tem, mas fraca; a do filho é incompleta..." (ARISTÓTELES, Política, Trad. Nestor Silveira Chaves. Ed. Saraiva de Bolso, Livro I, Capítulo 2 e 4, pgs. 26, 27 e 42).
Esta
defesa aristotélica da escravidão, que soa tão nauseante a nossos
ouvidos, só torna ainda mais significativa a atitude de Spartacus -
ele que, se pudesse, decerto cuspiria no rosto do filósofo e
lançaria seus livros ao fogo. O levante de escravos, liderado por
Spartacus, é uma tentativa desesperada de romper radicalmente com
estes grilhões da servidão imposta de cima pela força bruta dos
senhores. Após uma rebelião penitenciária, Spartacus e seus
asseclas libertam-se da escola de gladiadores onde haviam sido
encerrados e partem pelo território italiano, libertando pelo
caminho todos os escravos que encontram e pilhando as riquezas dos
senhores. Tudo o que querem é atravessar o território da Itália
até o mar e fugir para longe da degradante e tenebrosa condição de
escravidão.
Em uma
das cenas mais belas do filme, Spartacus e sua amada Varínia
saboreiam com deleite as sensações, para eles frescas e inéditas,
da liberdade. Celebram o fato de que agora não estão acorrentados e
que ninguém pode comprá-los ou vendê-los. Spartacus estoura numa
gargalhada gostosa ao ouvir o relato da fuga de Varínia, que saiu
correndo de seu senhor ao notar que ele era pançudinho demais para
poder alcançá-la...
Deitados na relva, à luz do luar,
discutem seus desejos para o futuro, e Spartacus, homem capaz de se
enternecer com a poesia e de declarar seus amores com arroubos
sentimentais, revela seu intenso desejo de conhecimento. Pois
a escravidão é algo que segrega o sujeito de tudo, de todos os
direitos, inclusive o privando de acesso ao mundo da cultura, fazendo
da possibilidade de educar-se um privilégio das elites. Spartacus,
analfabeto cheio de uma sabedoria que não se aprende nos livros,
inculto mas sequioso de sapiência, manifesta seu desprezo pela sina
de lutador e diz desejar "saber tudo":
"Who wants to fight? And animal can learn to fight! But to sing beautiful things, and make people believe them.... Hmmm! I'm free. But what do I know? I don't even know how to read. I know nothing. Nothing! I wanna know. I wanna know everything. Why a star falls and a bird doesn't. Where the Sun goes at night. Why the Moon changes shape. I wanna know where the wind comes from..."
Mas o filme de Kubrick, baseado no livro de Howard Fast e fiel aos
fatos históricos, está longe de ser otimista. A força militar das
legiões a serviço do Império Romano é brutalmente superior ao
exército improvisado que Spartacus lidera. Roma reina pela força,
não pelo direito. Roma não conhece o diálogo democrático, a
negociação diplomática. Roma não cede em sua posição de senhora
absoluta sobre as vidas daqueles que ela se dá o direito de tratar
como coisas. O preço que irão pagar aqueles que se insurgiram
contra a águia imperial será altíssimo - e o espectador que
testemunha a carnificina sai do filme levando uma memória indelével
de uma pilha de cadáveres que preenche o campo de batalha...
Em sua instigante
análise na Genealogia da Moral, Nietzsche avança a tese de que o
cristianismo representa um "levante de escravos na moral".
Parece-me bem interessante refletir sobre isso à luz do destino de
Spartacus e seus asseclas. Estes, longe de tentarem um levante
restrito ao domínio da moralidade, insurgem-se de modo muito mais
literal e concreto: querem romper as grades de ferro que os encerram
como animais na jaula. Que um elemento de indignação moral se
mescle a este intento inssurrecional, não duvido: Spartacus e seus
companheiros sentem na pele o quão indigno é a sina que lhes é
imposta, o quão horrível é ser tratado como mercadoria, o quão
insuportável é trabalhar debaixo do chicote, em jornadas
estafantes, para gerar riquezas que serão gozadas pelos outros.
O filme de Kubrick é
notavelmente materialista, sem nenhuma intervenção divina ou
interpretação mitológica: estamos diante de uma luta de classes e
as questões de moralidade estão necessariamente conectadas com a
realidade econômica e política desta sociedade escravocrata. O
cristianismo, na leitura nietzschiana, não é um levante de escravos
deste tipo spartacusiano, mas sim um momento na história em que "o
ressentimento torna-se criador de valores". Em outras palavras:
as populações que estavam sendo pisoteadas e oprimidas pelo poderio
do Império Romano, em sua impotência para reagir e revolucionar a
realidade concreta, inverteram a valoração característica da
nobreza romana. Esta transvaloração dos valores realizada pela
moral judaico-cristã equivale a uma consolação que se oferece aos
fracos e oprimidos.
Mas notem bem: o
cristianismo, ao contrário de Spartacus, não prega que os escravos
peguem em armas e se levantem para guerrear contra seus senhores; o
cristianismo é uma doutrina que fabrica a noção de Reino dos Céus
e promete para um futuro post-mortem uma inversão da hierarquia
terrestre. Aqueles que são hoje pisoteados, explorados,
feridos, mutilados, depois de morrerem serão recompensados por uma
divindade benfazeja. Spartacus, ao invés de se inebriar com a
esperança de ser salvo por potências superiores em um futuro
distante, toma o seu destino nas próprias mãos no presente - seu
levante é concreto. O cristianismo, ao contrário, religião da fé
e da esperança, prega a resignação e o fatalismo - carregar a cruz
rezando pais-nossos e aves-marias - e adia o dia da redenção para
uma suposta transcendência. Ora, para Nietzsche, e decerto que
também para Marx, esta transcendência é um embuste, esta
recompensa post-mortem uma ilusão e esta fé apenas um ópio.
É o que torna o
cristianismo uma religião escrava do Imaginário e incapaz de
revolucionar a realidade terráquea. Ao invés de quebrar todas as
correntes que aprisionam o homem, o cristianismo permite que o homem
permaneça acorrentado, ao mesmo tempo que promete para depois a
libertação. É o que torna o cristianismo uma religião que
idolatra a morte e o que explica seu caráter tão fúnebre e
soturno: aqueles que enxergam na morte uma porta que se abre
para uma existência venturosa acabam se apaixonando por Tânatos. O
desejo passa a se exilar da realidade terrestre e voejar pelos
domínios imaginários do "Paraíso", do "Juízo
Final", da "Redenção", conceitos que Nietzsche
afirma no Anticristo "não terem nenhum ponto de contato com a
realidade".

Spartacus
explicita que a cruz, na história, é instrumento de tortura e
assassinato: por que idolatrar este horror? Se os cristãos puderam
transformar este tenebroso instrumento de supliciamento em objeto de
culto, talvez isto se deva somente à fé que têm na Ressurreição
de Jesus. Eis uma religião que diz a todos os crucificados que, um
dia, no além-túmulo, serão recompensados por seus sofrimentos.
O que vale a pena
questionar, como vêm fazendo por milênios um número infindável de
ateus, agnósticos, céticos e livres-pensadores, é se esta dimensão
transcendente, este além-túmulo redentor, é de fato uma realidade
ou não passa de uma ilusão. É possível que a morte seja uma porta
que se fecha, e não um portal que se abre para a glória celeste. É
possível que não haja nenhum "fantasminha" imortal
chamado "alma" que vá voejar para fora do cadáver que
apodrece e subir aos céus. É possível que o cristianismo inteiro
esteja construído sobre uma esperança falsa e que, como diz
Nietzsche, que "o próprio Deus se revele como a nossa mais
longa mentira." (A Gaia Ciência)
O cristianismo, aliás,
como sabemos, não soube, não quis ou não pôde abolir a
escravidão. Nós, latino-americanos, o sabemos muito bem! Depois de
1.500 anos de cristianismo, nosso continente foi invadido pelos
conquistadores da Espanha e de Portugal, monarquias católicas que
não tiveram pudores em escravizar milhões de índios e negros, com
a desculpa de que não eram gente mas bestas-sem-alma. Em As Veias
Abertas da América Latina, Eduardo Galeano relembra-nos no que se
transformou a cruz nesta época:
"O ano de 1492 não
foi apenas o do descobrimento da América, o novo mundo nascido
daquele equívoco de grandiosas consequências (Colombo morreu
convencido de que havia alcançado a Ásia pelas costas). Foi também
o ano da recuperação de Granada, o último reduto da religião
muçulmana em solo espanhol. Esta era uma guerra santa, a guerra
cristã contra o Islã, e não é casual, de resto, que no mesmo ano
de 1492, 150 mil judeus declarados tenham sido expulsos do país. A
Espanha adquiria realidade como nação erguendo espadas cujas
empunhaduras traziam o signo da cruz.
A rainha Isabel fez-se
madrinha da Santa Inquisição. A façanha do descobrimento da
América não poderia se explicar sem a tradição militar da guerra
das cruzadas que imperava na Castela medieval, e a Igreja não se fez
de rogada para atribuir caráter sagrado à conquista de terras
incógnitas do outro lado do mar. O papa Alexandre VI converteu a
rainha Isabel em dona e senhora do Novo Mundo. A expansão do reino
de Castela ampliava o reino de Deus sobre a Terra. Três anos após o
descobrimento, Colombo, pessoalmente, comandou uma campanha militar
contra os indígenas da Dominicana. Os espanhóis dizimaram os
índios. Mais de 500 deles, enviados para a Espanha, foram vendidos
como escravos…" (Pg. 30-31)
A cruz, que antes de
Cristo matou milhares e milhares de pessoas como um instrumento do
Império Romano para a pena capital, depois de Cristo vai parar nas
empunhaduras das espadas que lutaram nas carnificinas das
Cruzadas e que subjugaram o continente que os conquistadores
batizariam - em homenagem a um europeu! - de "América".
Encontrando por aqui nativos que nada sabiam sobre o cristianismo,
que jamais haviam lido a Bíblia e nunca tinham ouvido falar em Jesus
Cristo, os católicos europeus, a partir de 1492, se auto-proclamaram
aqueles que estavam destinados por missão divina a livrar estas
terras do paganismo e da idolatria, ilustrando os "selvagens"
na "verdadeira fé". Galeano, novamente:
"A América era
uma vasto império do Diabo, de redenção impossível ou duvidosa,
mas a fanática missão contra a heresia dos nativos se confundia com
a febre que, nas hostes da conquista, era causada pelo brilho dos
tesouros do Novo Mundo. (...) Entre 1503 e 1660, desembarcaram no
porto de Sevilha 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de
prata. A prata levada para a Espanha em pouco mais de um século e
meio excedia três vezes o total das reservas europeias. E essas
cifras não incluem o contrabando. Com base em dados fornecidos por
Alexander von Humboldt, estimou-se em 5 bilhões de dólares atuais a
magnitude do excedente econômico evadido do México entre 1760 e
1809, apenas meio século, através das exportações de prata e
ouro. Os metais arrebatados aos novos domínios coloniais estimularam
o desenvolvimento europeu e até se pode dizer que o tornaram
possível… formidável contribuição da América para o progresso
alheio. No primeiro tomo de O Capital, Karl Marx escreve: ‘o
descobrimento das jazidas de ouro e prata da América, a cruzada de
extermínio, a conversão do continente africano em campo de caça
aos escravos negros: são todos fatos que assinalam a alvorada da era
da produção capitalista.’ O saque foi o meio mais importante de
acumulação primitiva de capitais. (…) Essa gigantesca massa de
capitais deu um grande impulso à revolução industrial…” (pg.
51)

Logo
nas primeiras cenas de Spartacus, o narrador nos informa que este
escravo rebelde sonhou com o fim da escravidão 2.000 anos antes dela
acabar de fato. Seu fracasso não faz com que seu exemplo seja
menos comovente, mas sublinha o quão cruel e tenebrosa pode ser a
História humana. O cristianismo, surgido no Oriente Médio sob jugo
romano algumas décadas depois da crucificação em massa dos
escravos spartacusianos em levante, não revolucionou a
realidade, mas somente disseminou esperanças de uma transcendência
onde os sofrimentos seriam recompensados e onde os cruéis senhores
arderiam no Inferno.
Esta solução
meramente imaginária mostrou toda a sua ineficácia: a escravidão
sobreviveu até o século XIX e XX, e muitas vezes praticada pelos
próprios cristãos! O que justifica este sentimento visceral de
náusea e desgosto que sinto diante de toda e qualquer idolatria da
cruz, esta horrenda máquina da morte que, através da História, não
foi senão instrumento de genocídio e opressão. Nós,
latino-americanos, que por milênios tivemos a sorte de não
conhecermos a Cruz e seus idólatras, enfim tivemos a infelicidade
de, a partir de 1492, sermos invadidos por estes vândalos europeus,
loucos por ouro e famintos por conversões, e que foram capazes de
alguns dos crimes mais imensos de que se tem notícia em todo o
desenrolar da aventura humana:
"A violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu
sobre essas comarcas senão ao preço do genocídio nativo:
atribui-se ao México pré-colombiano uma população entre 25 e 30
milhões, e se calcula que havia uma número parecido de índios na
região andina; na América Central e nas Antilhas, entre 10 e 13
milhões de habitantes. Os índios das Américas somavam não menos
do que 70 milhões, ou talvez mais, quando os conquistadores
estrangeiros apareceram no horizonte; um século e meio depois,
estavam reduzidos tão só a 3,5 milhões.”
(GALEANO: pg. 64)


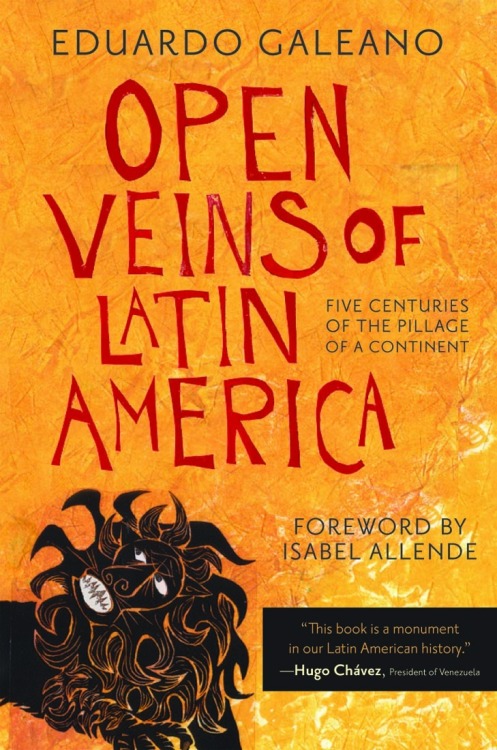
Nenhum comentário:
Postar um comentário